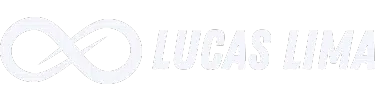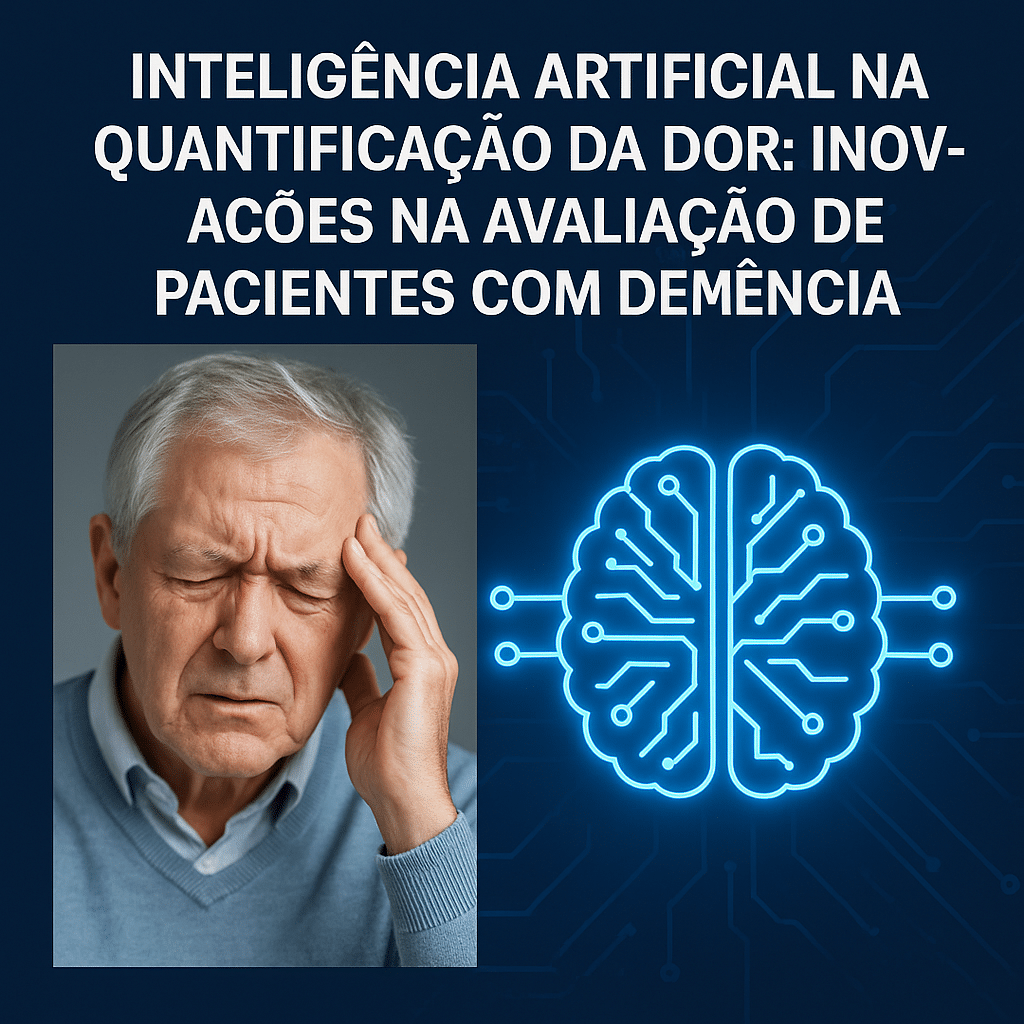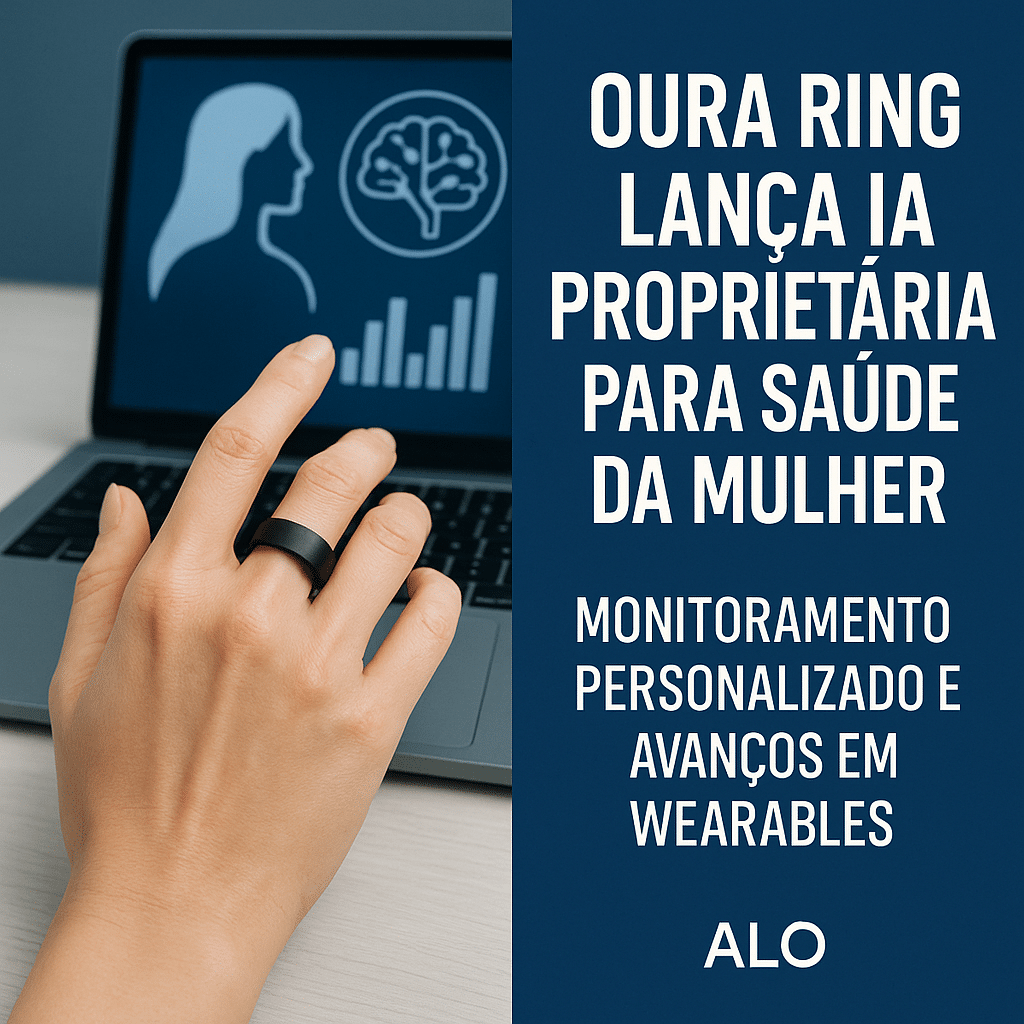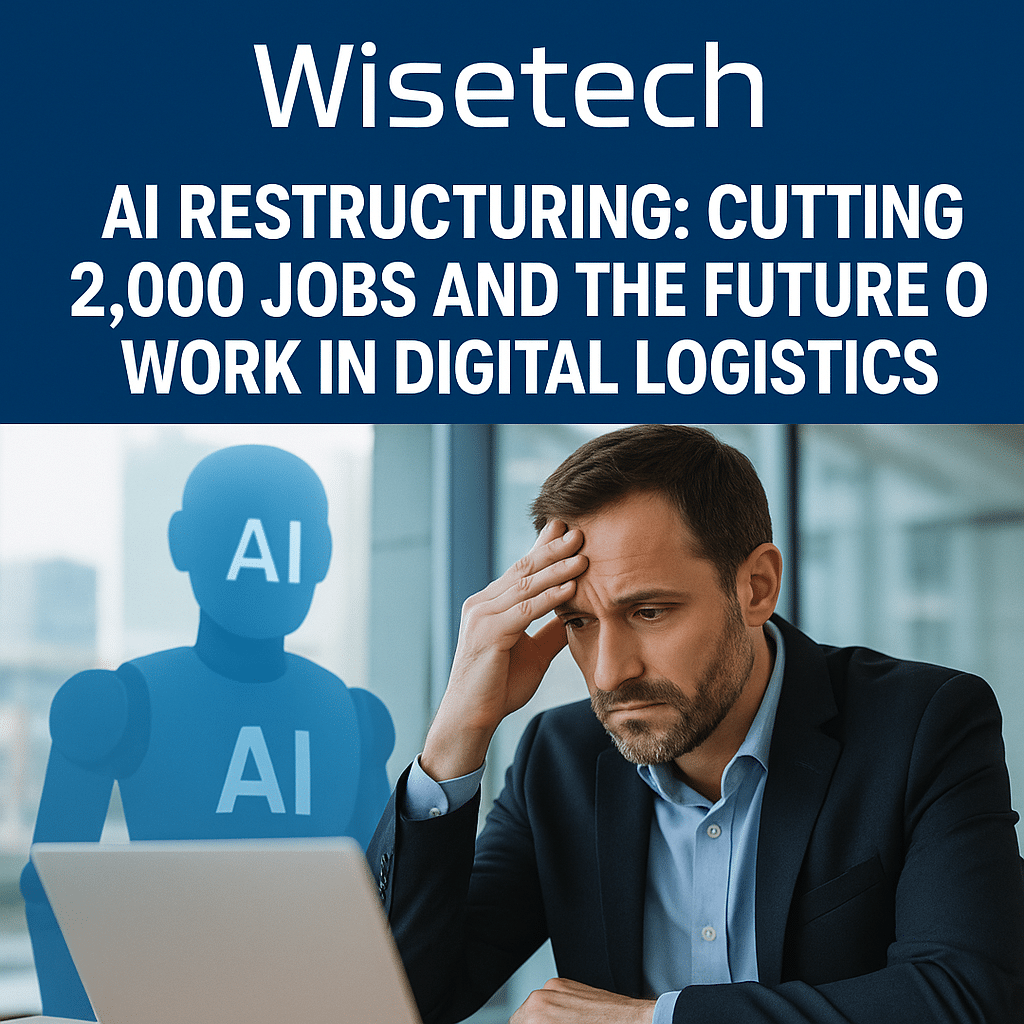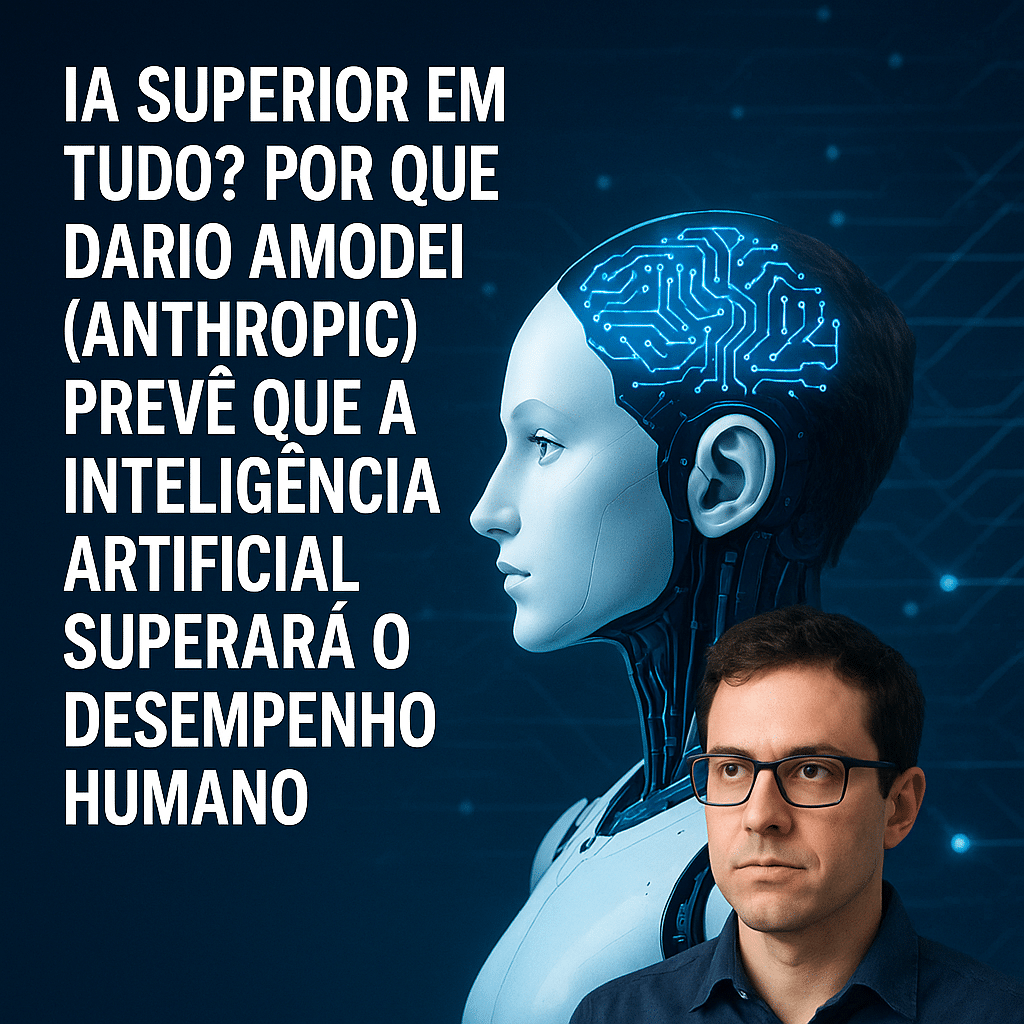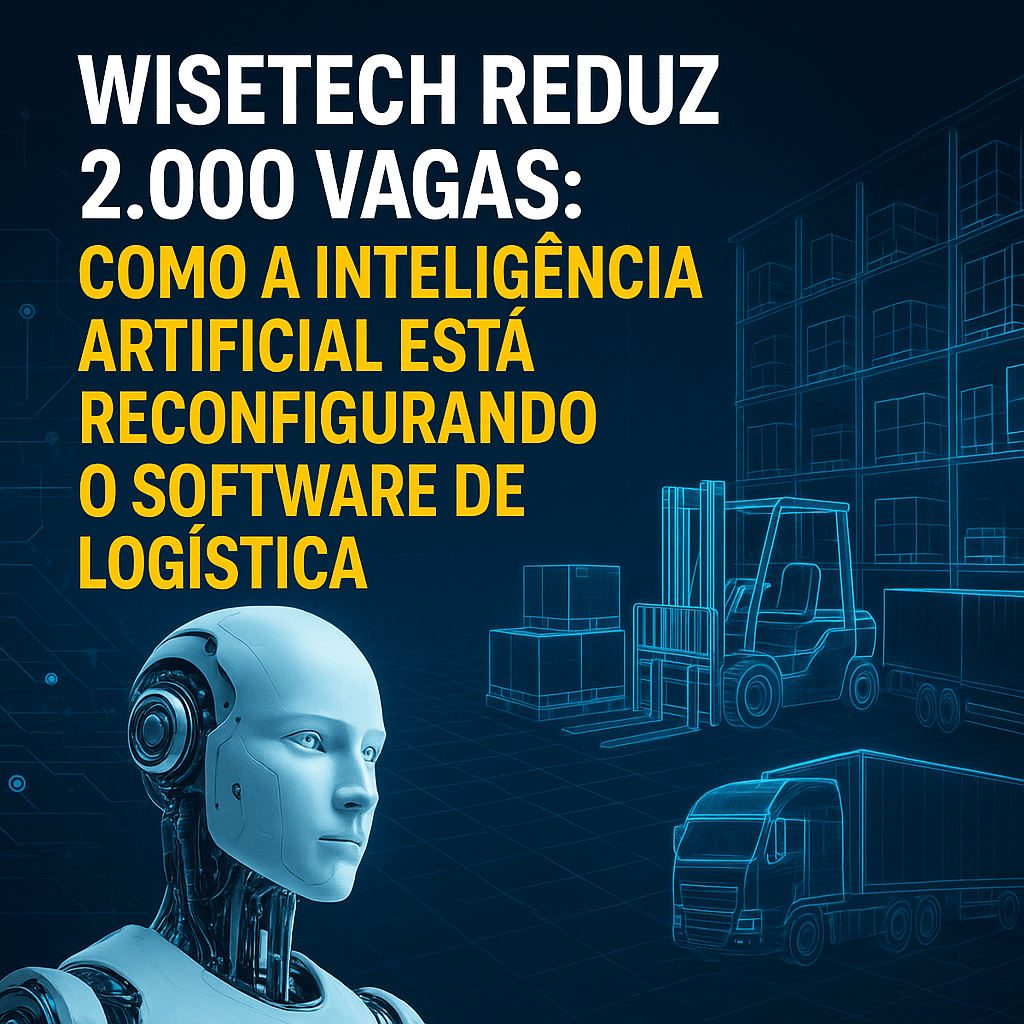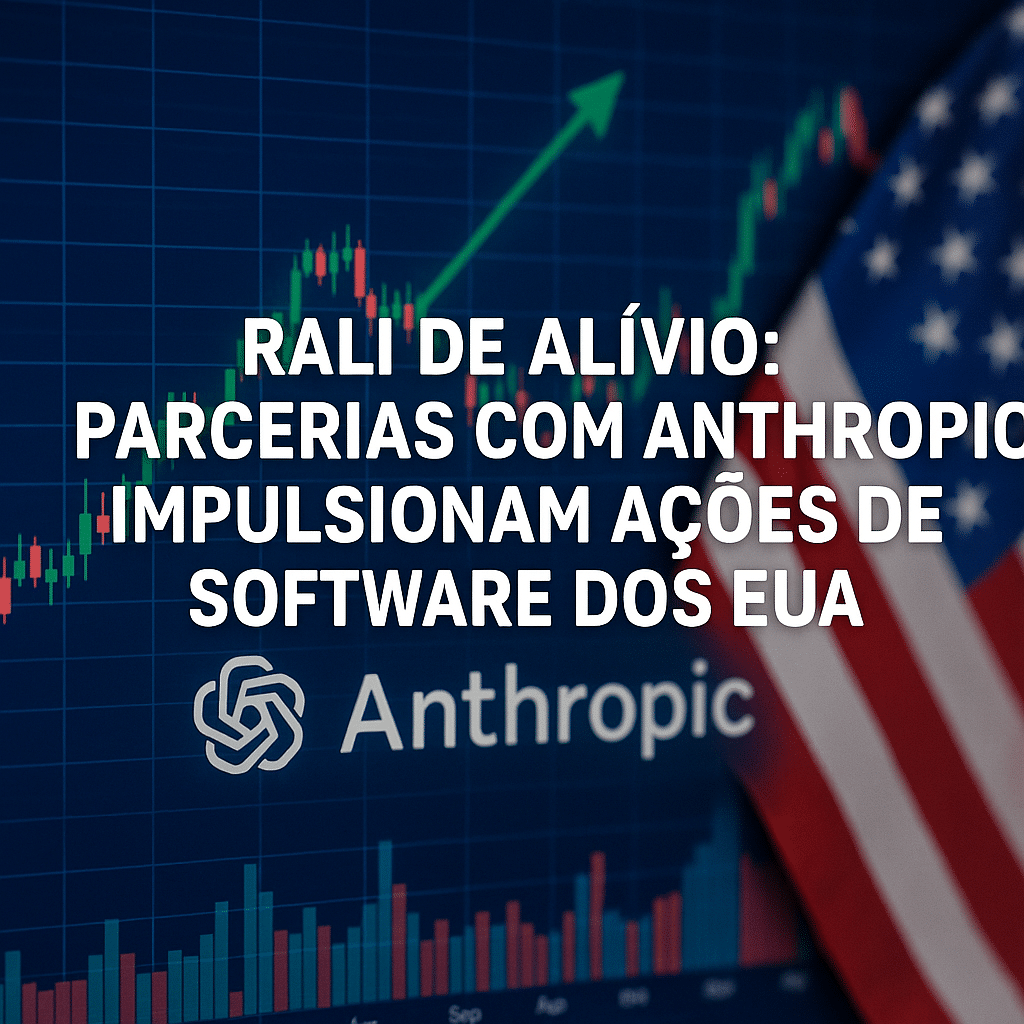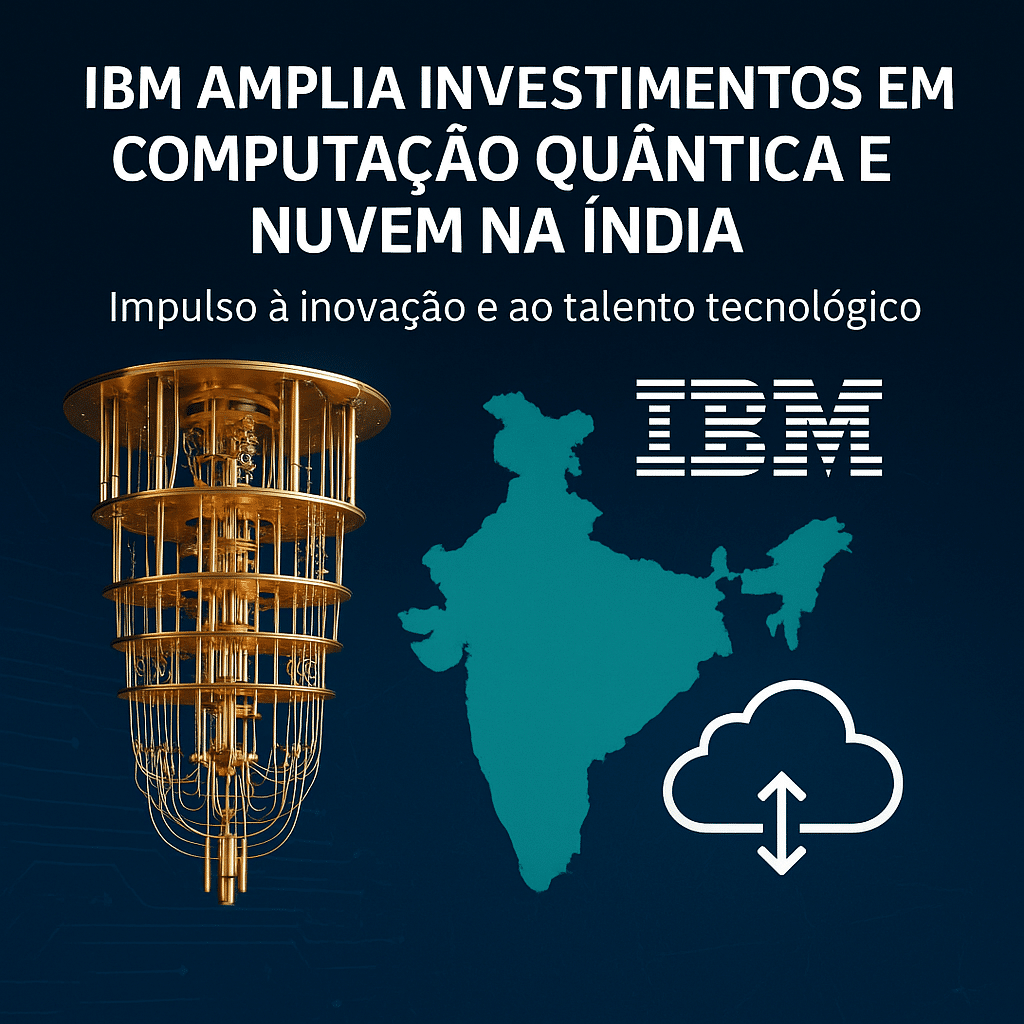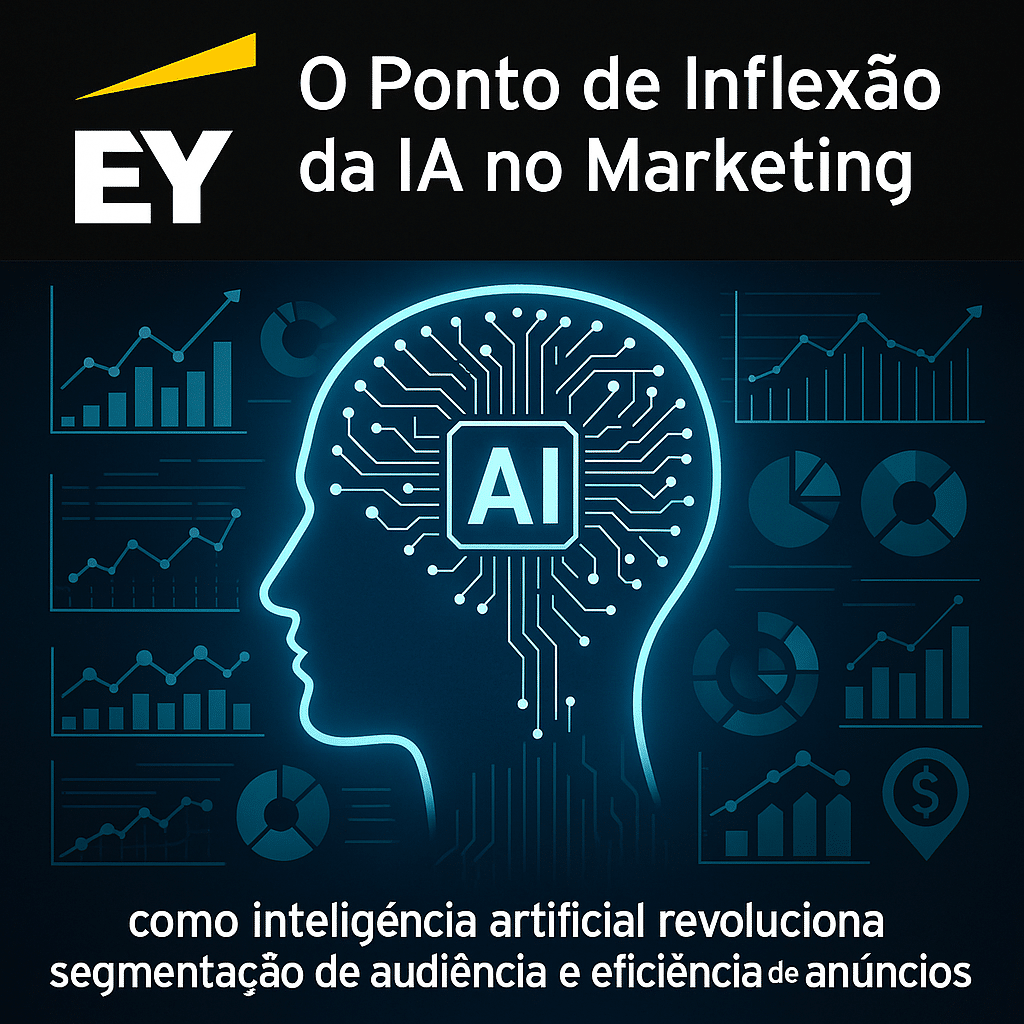Introdução
A avaliação da dor é um pilar central na prática clínica e na assistência a pacientes incapazes de verbalizar desconforto, como pessoas com demência avançada. Tradicionalmente, ferramentas observacionais, como a Escala Abbey, têm sido amplamente utilizadas por equipes de enfermagem para detectar sinais comportamentais e fisiológicos de dor. No entanto, essas abordagens dependem de observadores humanos, podem sofrer variabilidade interavaliador e nem sempre oferecem detecção precoce ou quantificação objetiva do sofrimento (MOUSA, 2025). Nas últimas décadas, a emergência de sistemas baseados em inteligência artificial (IA) propõe uma nova abordagem para a quantificação da dor, utilizando processamento de imagem, reconhecimento facial e algoritmos de aprendizado de máquina para identificar indicadores sutis de dor de forma padronizada e escalável.
Este texto analisa de forma aprofundada as mudanças promovidas pela IA na quantificação da dor, com base na reportagem de Deena Mousa publicada pela MIT Technology Review em 15 de outubro de 2025 (MOUSA, 2025). Aborda evidências sobre dispositivos comerciais como o PainChek, implicações clínicas e práticas para a assistência geriátrica, limitações e recomendações para adoção responsável em contextos de cuidado.
Contextualização: desafios da avaliação de dor em pacientes com demência
A população de pacientes com demência representa um desafio particular para a avaliação da dor. À medida que a linguagem e a comunicação se deterioram, a expressão verbal de dor torna-se menos confiável, e a identificação depende de sinais comportamentais (agitação, vocalizações, alteração do padrão de sono) e indicadores físicos (mudanças na respiração, tensão muscular). Ferramentas observacionais padronizadas, como a Escala Abbey, oferecem protocolos para sistematizar a observação, porém apresentam limitações conhecidas: subjetividade do observador, treinamento inconsistente, dependência do tempo de interação e sensibilidade reduzida a expressões microfisiológicas da dor (MOUSA, 2025).
Além disso, em ambientes de cuidado de longo prazo, as cargas de trabalho, turnover de equipe e variações culturais na interpretação de comportamentos podem comprometer a detecção e o manejo oportuno da dor. A subavaliação é um problema recorrente, com consequentes impactos negativos na qualidade de vida, mobilidade, risco de depressão e complicações clínicas decorrentes de dor não tratada.
A emergência de soluções baseadas em inteligência artificial
Inteligência artificial aplicada à quantificação da dor combina técnicas de visão computacional, análise de expressões faciais, reconhecimento de microexpressões e processamento de sinais para inferir estados dolorosos a partir de imagens e vídeos. Sistemas comerciais têm sido desenvolvidos para uso em dispositivos móveis, com algoritmos treinados em bases de dados com anotações clínicas. Entre as soluções citadas na reportagem de Deena Mousa, o PainChek merece destaque: aprovado pela Therapeutic Goods Administration (TGA) da Austrália em 2017, o PainChek utiliza reconhecimento de ação facial e uma avaliação checklist digital para gerar uma pontuação de dor (MOUSA, 2025).
A proposta central desses sistemas é reduzir a variabilidade humana, padronizar a documentação e permitir monitoramento contínuo ou sob demanda. Alguns produtos também incorporam módulos para registro e gestão clínica, integração com prontuários eletrônicos e geração de relatórios para suporte à tomada de decisão terapêutica.
Case study: adoção e impacto do PainChek na Austrália
Conforme relatado por MOUSA (2025), o PainChek foi liberado pela TGA em 2017 e recebeu, posteriormente, apoio financeiro do governo federal australiano para expansão nacional, o que facilitou sua adoção em centenas de lares de idosos. O financiamento público e estratégias de rollout nacional ajudaram a incorporar essa tecnologia na rotina de avaliação em muitas instituições, possibilitando coleta padronizada de dados e comparações longitudinais.
A adoção do PainChek em larga escala oferece insights sobre benefícios práticos: aumento na frequência de avaliações, melhor documentação da evolução da dor e suporte à equipe clínica na priorização de intervenções analgésicas. Também evidencia desafios operacionais, como necessidade de treinamento, integração com fluxos de trabalho e resistência inicial de profissionais acostumados a métodos tradicionais (MOUSA, 2025).
Como a tecnologia funciona: princípios técnicos
A maioria das soluções de IA para detecção da dor se baseia em três pilares técnicos principais:
– Detecção facial e análise de unidades de ação: algoritmos de visão computacional identificam pontos-chave na face (landmarks) e monitoram alterações musculares associadas a dor, como enrugamento da fronte, contração do lábio superior e fechamento dos olhos. Essas alterações podem ser quantificadas em unidades de ação que, combinadas, compõem um perfil expressivo compatível com dor.
– Aprendizado de máquina supervisionado: modelos treinados em conjuntos de dados anotados por clínicos aprendem padrões e probabilidades de dor a partir de exemplos rotulados. A capacidade preditiva depende da qualidade e representatividade das amostras de treinamento, incluindo diversidade étnica, faixa etária e condições médicas concomitantes.
– Integração de dados multimodais: além de expressões faciais, sistemas avançados podem incorporar sinais vitais, parâmetros comportamentais (agitação, vocalização) e dados de contexto (atividade, medicação) para melhorar a precisão diagnóstica e reduzir falsos positivos/negativos.
Esses princípios tornam possível gerar uma pontuação objetiva ou um perfil de risco que auxilia profissionais a confirmar suspeitas clínicas e monitorar resposta a intervenções.
Benefícios clínicos e operacionais
A implantação de IA na quantificação da dor traz múltiplos benefícios potenciais:
– Padronização e redução da variabilidade humana: avaliações mais consistentes, menos dependentes de subjetividade individual.
– Detecção precoce: identificação de sinais sutis que podem escapar à observação casual, permitindo intervenção mais rápida.
– Documentação e rastreabilidade: geração automática de registros que facilitam auditoria, pesquisa e acompanhamento longitudinal.
– Suporte à tomada de decisão: triagem priorizada de pacientes com possíveis crises de dor, apoio na titulação de analgésicos e avaliação de eficácia terapêutica.
– Economia operacional: na hipótese de redução de eventos adversos e internações decorrentes de dor não tratada, há potencial para impactos econômicos positivos em sistemas de saúde e cuidados de longo prazo.
É importante notar que esses benefícios dependem de implementação adequada, treinamento contínuo e integração com protocolos clínicos estabelecidos.
Limitações, vieses e preocupações éticas
Apesar do potencial, existem limitações técnicas e éticas que exigem atenção:
– Vieses nos dados de treinamento: se conjuntos de dados usados para treinar modelos não são representativos (por idade, etnia, condições neurológicas), o sistema pode apresentar desempenho diferencial e inequidades diagnósticas.
– Interpretação clínica: algoritmos não substituem o julgamento clínico. A IA deve ser vista como ferramenta de suporte, não como diagnóstico definitivo. Há risco de desumanização do cuidado se a tecnologia for usada como justificativa para reduzir contato humano.
– Privacidade e consentimento: captura de imagens e vídeos envolve riscos de privacidade. Em contextos de demência, o consentimento informado pode ser complexo, exigindo governança robusta sobre uso dos dados, armazenamento e autorização por representantes legais.
– Segurança e responsabilidade: determinação de responsabilidade em casos de erro do sistema (por exemplo, subestimação de dor que leva a dano) não está plenamente regulamentada. Necessitam-se diretrizes claras sobre uso clínico e supervisão humana.
– Adaptação à variabilidade clínica: condições neurológicas que alteram a expressão facial (paralisias, distonias, Parkinson) podem reduzir a acurácia. O sistema deve ser validado em subgrupos clínicos relevantes.
Tais preocupações demandam abordagens multidisciplinares envolvendo clínicos, cientistas de dados, bioeticistas e reguladores.
Aspectos regulatórios e validação clínica
A aprovação regulatória, como a obtenção de homologação pela TGA na Austrália, é um marco importante, mas não esgota a necessidade de validação contínua. Reguladores em diferentes jurisdições seguem critérios distintos para dispositivos baseados em IA. A validação clínica robusta exige:
– Estudos prospectivos com amostras representativas.
– Comparação com padrões referenciais clínicos aceitos.
– Avaliação de sensibilidade, especificidade, valores preditivos e impacto em desfechos clínicos reais (por exemplo, redução da dor relatada, melhora na funcionalidade, diminuição de eventos adversos).
– Monitoramento pós-comercialização para detecção de falhas de desempenho em ambientes reais.
A reportagem de MOUSA (2025) destaca que, além da aprovação, o apoio financeiro e estratégias de implementação são fundamentais para adoção em escala. Em muitos países, políticas públicas e incentivos podem acelerar a integração de tecnologias validadas.
Implementação prática em lares de longa permanência e unidades geriátricas
A adoção bem-sucedida de soluções de IA em ambientes de cuidado exige planejamento e investimentos em processos:
– Treinamento e capacitação: equipes devem ser treinadas tanto no uso técnico do dispositivo quanto na interpretação clínica das pontuações geradas. Simulações e atualização periódica são recomendadas.
– Protocolos e fluxos de trabalho: integrar avaliações automatizadas em rotinas diárias, definindo gatilhos para intervenções e responsáveis por decisões clínicas.
– Infraestrutura tecnológica: garantir conectividade, dispositivos compatíveis, segurança de dados e integração com sistemas de registro.
– Monitoramento e governança: estabelecer comitês locais para revisar desempenho, analisar incidentes e adaptar protocolos conforme necessário.
– Envolvimento da família e representantes legais: comunicar objetivos e limites da tecnologia, obter consentimento e fornecer transparência quanto ao uso de imagens e dados.
Experiências como a do rollout australiano mostram que financiamento, suporte técnico e acompanhamento contínuo são determinantes para manutenção da adoção.
Implicações para pesquisa e desenvolvimento
A evolução da IA na quantificação da dor abre múltiplas frentes de pesquisa:
– Desenvolvimento de bases de dados multicêntricas e diversificadas para treinar e validar modelos de forma equitativa.
– Estudos de impacto clínico randomizados que avaliem se o uso da IA reduz tempo até a analgesia adequada, melhora indicadores de qualidade de vida e diminui complicações.
– Investigação de modelos multimodais que combinem sinais fisiológicos, comportamentais e contextuais para aumentar robustez.
– Pesquisa sobre aceitabilidade por parte de profissionais, pacientes e familiares, e estratégias de implementação centradas no usuário.
– Estudos de custo-efetividade para embasar decisões de políticas públicas e reembolso em sistemas de saúde.
Investimentos em pesquisa são necessários para consolidar evidências e orientar adoção segura e efetiva.
Recomendações para adoção responsável
Com base na análise das evidências e das experiências descritas por MOUSA (2025), proponho as seguintes recomendações para gestores e profissionais:
– Exigir evidências de validação clínica e performance em populações relevantes antes de adoção.
– Implementar a IA como suporte à decisão, integrando revisões clínicas regulares e supervisão humana.
– Assegurar governança de dados robusta: políticas claras de privacidade, armazenamento, acesso e descarte de imagens e registros.
– Promover treinamento contínuo da equipe e avaliação de competências em uso da tecnologia.
– Monitorar performance em produção com indicadores de qualidade e segurança; relatar problemas e ajustar algoritmos conforme necessário.
– Envolver pacientes, familiares e representantes legais no processo de consentimento e na comunicação sobre benefícios e riscos.
Conclusão
A inteligência artificial promete transformar a quantificação da dor, oferecendo ferramentas que podem aumentar a objetividade, padronizar avaliações e apoiar decisões clínicas em populações vulneráveis, como pessoas com demência. Experiências reais, como a adoção do PainChek na Austrália, ilustram benefícios potenciais, assim como desafios operacionais, éticos e regulatórios (MOUSA, 2025). Para que essa transformação seja positiva e equitativa, é essencial articular validação científica rigorosa, governança de dados, treinamento clínico e políticas públicas que incentivem adoção responsável. Em suma, a IA é uma aliada promissora, mas seu valor dependerá de implementação cuidadosa e contínua avaliação de impacto nos desfechos de saúde.
Referências (ABNT)
MOUSA, Deena. AI is changing how we quantify pain. MIT Technology Review, 15 out. 2025. Disponível em: https://www.technologyreview.com/2025/10/15/1125116/ai-is-changing-how-we-quantify-pain/. Acesso em: 15 out. 2025.
Fonte: MIT Technology Review. Reportagem de Deena Mousa. AI is changing how we quantify pain. 2025-10-15T10:00:00Z. Disponível em: https://www.technologyreview.com/2025/10/15/1125116/ai-is-changing-how-we-quantify-pain/. Acesso em: 2025-10-15T10:00:00Z.
Fonte: MIT Technology Review. Reportagem de Deena Mousa. AI is changing how we quantify pain. 2025-10-15T10:00:00Z. Disponível em: https://www.technologyreview.com/2025/10/15/1125116/ai-is-changing-how-we-quantify-pain/. Acesso em: 2025-10-15T10:00:00Z.